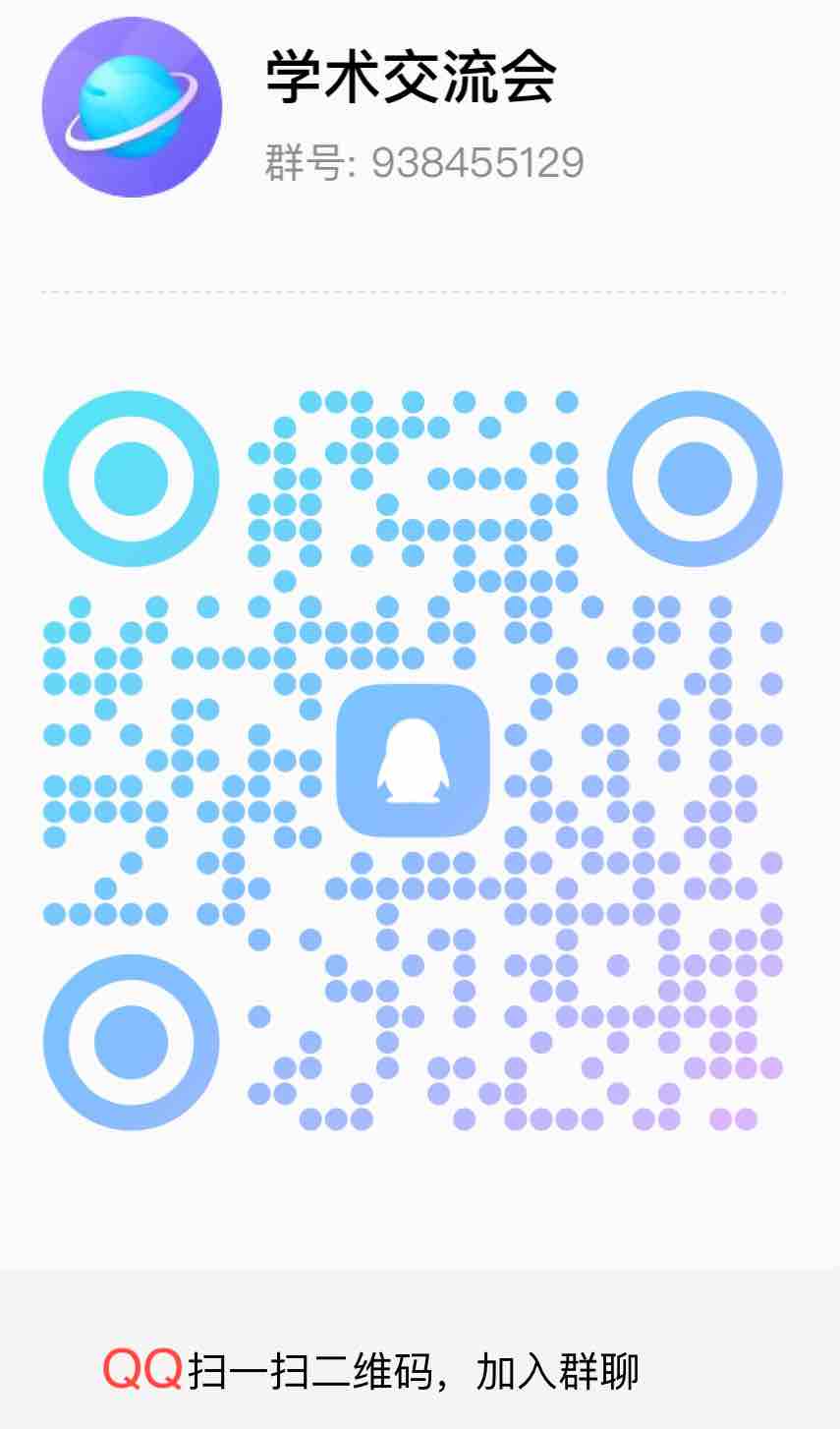[PDF][PDF] O dever de casa como política educacional e objecto de pesquisa
MEPP de Carvalho - Revista Lusófona de Educação, 2006 - redalyc.org
Revista Lusófona de Educação, 2006•redalyc.org
Diante de sua importância no cotidiano das relações família–escola, o dever de casa tem
sido um objeto ausente da pesquisa educacional. Embora seja uma prática cultural que há
muito integra as relações e divisão de trabalho educacional entre essas instituições, não
tem sido problematizado em suas concepções e implicações, seja para a família, seja para
o trabalho docente. No contexto da literatura estadunidense e brasileira, algumas exceções,
além do meu próprio trabalho (Carvalho, 2004a, 2004b, 2000a, 2000b, 1997, 1996) são as …
sido um objeto ausente da pesquisa educacional. Embora seja uma prática cultural que há
muito integra as relações e divisão de trabalho educacional entre essas instituições, não
tem sido problematizado em suas concepções e implicações, seja para a família, seja para
o trabalho docente. No contexto da literatura estadunidense e brasileira, algumas exceções,
além do meu próprio trabalho (Carvalho, 2004a, 2004b, 2000a, 2000b, 1997, 1996) são as …
Diante de sua importância no cotidiano das relações família–escola, o dever de casa tem sido um objeto ausente da pesquisa educacional. Embora seja uma prática cultural que há muito integra as relações e divisão de trabalho educacional entre essas instituições, não tem sido problematizado em suas concepções e implicações, seja para a família, seja para o trabalho docente. No contexto da literatura estadunidense e brasileira, algumas exceções, além do meu próprio trabalho (Carvalho, 2004a, 2004b, 2000a, 2000b, 1997, 1996) são as contribuições de Corno (1996) e Natriello (1997) nos EUA; e Nogueira (2002) no Brasil. No Banco de Teses e Dissertações da Capes encontravam-se, em agosto de 2006, poucos trabalhos tratando especificamente do tema. De 1990 até 2004, fazendo-se a busca por “expressão exata”—dever de casa, tarefa de casa, lição de casa—há apenas 6 dissertações de mestrado (Sakamiti, 2003; Franco, 2002; Paula, 2000; Wiezzel, 1999, Junqueira, 1997; Rezende, 1996) e uma tese de doutorado (Nogueira, 1998) em educação com uma dessas expressões no título ou como palavra-chave, a maior parte das quais situa o dever de casa no contexto do ensino-aprendizagem, algumas incluindo perspectivas de pais/mães. As expressões também aparecem nos resumos de outras duas dissertações recentes que abordam as relações escola–família: Oliveira (2004) e Paula (2004). Assim, seja no campo da didática, seja no campo da sociologia das relações família–escola, os estudos empíricos qualitativos e quantitativos são escassos. Em geral, os estudos sociológicos e antropológicos qualitativos das relações família–escola e das práticas educativas e estratégias de escolarização das famílias são recentes tanto nos Estados Unidos (por exemplo, Lareau, 1993 e McClain, 1997), como no Brasil (por exemplo, Nogueira, Romanelli & Zago, 2000), onde se segue a tradição francesa de Pierre Bourdieu—inaugurada com a obra seminal A reprodução (Bourdieu & Passeron, 1975)—e Bernard Lahire (1997). No contexto português, uma exceção notável é a pesquisa de Rebelo e Correia (1999), sobre o sentido dos deveres para casa junto a professores e encarregados de educação (pais ou responsáveis).
O estudo das relações família–escola ganha relevo a partir da década de 1990, quando a participação da família na educação escolar passa a ser incentivada pela política educacional de combate ao fracasso escolar/promoção do sucesso escolar. O pêndulo da responsabilização pelo fracasso escolar se move da escola (e das professoras) para a família. Como já argumentei (Carvalho, 2000a, 1997), o sucesso escolar tem contado com a contribuição direta ou ação compensatória da família, o que é bem visível no contexto das escolas particulares, de duas maneiras: implicitamente construindo o currículo com base no capital cultural afim herdado pelo/as estudante, ou seja, no habitus adquirido na socialização primária ou educação do-
redalyc.org
以上显示的是最相近的搜索结果。 查看全部搜索结果